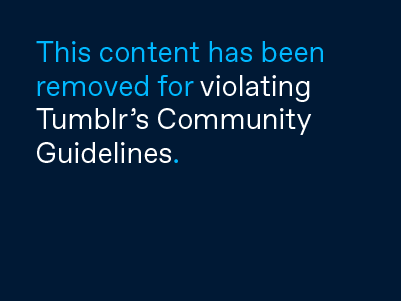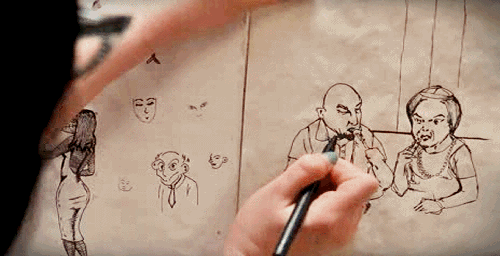A discussão a respeito do real significado daquilo que
especulamos idealmente ser a justiça gastou ao longo dos séculos a tinta e pena
de muitos filósofos e juristas. Entrementes,
tal conceito permanece, ainda hoje, ora um tanto quanto abstrato, ora
genericamente empobrecido, dogmatizado friamente na rotina ordinária dos
tribunais, recebendo cura meramente semântica na boca de muitos magistrados
ainda padecidos pela chaga do tecnicismo mecânico e do normativismo insensível,
destituído assim de seu substrato axiológico primordial. As acepções
transformaram-se multiformes e relativizadas, subsistindo na zona da
indefinição e impalpabilidade
No nosso entendimento, justiça significa dar a cada um o que
lhe é de direito na devida medida, assegurar que todos sejam livres e iguais.
Justiça significa DAR CONDIÇÕES MATERIAIS MÍNIMAS ÀS PESSOAS para que possam
fazer suas escolhas existenciais. A justiça é a guardiã da cidadania e da
constitucionalidade. É o anteparo do cidadão para ver concretizados seus
direitos individuais e os de toda coletividade.
Nossa Carta Magna de 88, sob sua égide, conferiu importância
precípua a tal conceito, introduzindo no âmago do ordenamento jurídico pátrio
conceitos como a função social do contrato e da propriedade privada, outrossim
guarnecendo enfaticamente o rol de direitos fundamentais, sobremaneira o
Princípio da Dignidade Humana.
Contudo, muitas vezes, aos lançarmos olhares mais argutos à
realidade objetiva, verificamos o cabal descumprimento do exemplário
principiológico referido, como também às exortações constitucionais asseverando
sua proteção; diga-se, dos direitos fundamentais insculpidos formalmente na
Carta da República. Vivemos
diante de um contexto histórico-social em que princípios e práticas se agridem
mutuamente a todo instante.
Tratemos, por exemplo, do princípio da isonomia. Como pode um
princípio de um padrão igual de medida, válido para todos os cidadãos do
Estado, diante de um contexto histórico-social em que princípio e prática se
agridem mutuamente? O Direito da classe dominante que sanciona,
principiologicamente, um padrão de medida igual - surgindo, pois, como Direito
FORMAL da igualdade –, é, na prática, Direito da desigualdade de classes
desiguais MATERIALMENTE. Nesse
sentido, podemos aplaudir o escólio de GONÇALVES DA SILVA (2007, p. 168), ao
ponderar acerca da Teoria da Justiça em Marx:
“A crítica de Marx ao capitalismo, do ponto de vista de sua
teoria da justiça, está calcada num pressuposto sobre o que viria a ser uma
troca justa. Uma troca justa é aquela em que homens livres, com autonomia a
liberdade, trocam bens e serviços no mercado de tal forma que nenhuma das
partes é lesada
.
(...)
Para Marx, embora o capitalismo esteja baseado no trabalho
livre, a propriedade privada dos meios de produção, por parte dos capitalistas,
implica necessariamente a não-propriedade por parte dos trabalhadores, ou a
destituição., Na venda da força de trabalho no mercado de trabalho, os
trabalhadores não recebem todo o valor gerado na produção das mercadorias. Uma
parte do valor, a mais-valia, é apropriada privadamente pelos capitalistas.
Nesse sentido, portanto, a troca que ocorre entre trabalhadores livres e
capitalistas no mercado de trabalho é injusta.
(...)
No capitalismo, portanto, o conflito é regra, não a exceção
e, nesse sentido, o capitalismo representaria uma forma de produção
incompatível com a paz social: ele reproduziria potencialmente um estado de
natureza hobbesiano.”
Neste
contexto, salienta Marx,
precisamente, que, tendo suas raízes nas condições de vida material de épocas
históricas determinadas, as relações do Direito – como as formas do Estado -
não podem, com efeito, ser compreendidas a partir de si mesmas. Declara Marx: “O Direito não pode ser nunca mais elevado do que a formação econômica e o
desenvolvimento sócio-cultural que é por ela condicionado”. Ou seja, de nada adianta o processo de
formulação e promulgação FORMAL de direitos, pois a realidade material que os
enseja está intrinsicamente em contradição com o escopo dos mesmos. É a questão
do enfrentamento entre "Constituição real" contra a "
Constituição escrita" de que falava Ferdinand Lassale.
Advertia Lassale que uma Constituição escrita só é boa e
duradoura quando corresponder à Constituição real, ou seja, quando refletir os
fatores reais e efetivos do poder.
Neste diapasão, leciona Lassale: "De nada serve o que se
escreve numa folha de papel se não se ajusta à realidade, aos fatores reais e
efetivos do poder."
É evidente que nem tudo que está previsto na Constituição
pode ter aplicação "efetiva" por parte do poder público, e por vários
motivos: falta de dinheiro, prioridades etc. É a chamada "reserva do
possível"; mas mesmo assim o "mínimo existencial" do qual falei
anteriormente deve ser garantido. Ana Paula de Barcellos escreve sobre isso em:
"A eficácia jurídica dos princípios constitucionais". O entendimento mais
"moderno", a partir da disseminação do neoconstitucionalismo, vai ao
sentido da aplicabilidade direta e imediata das normas da Constituição,
notadamente as referentes à proteção e promoção dos direitos fundamentais.
Falar, por exemplo, em "direito à educação" e nada fazer nesse
sentido (dizendo que é uma norma meramente programática) é fazer da CF letra
morta. Bonito no papel, e só isso.
A respeito,faz-se
pertinente, enfim, a reprodução de brilhante trecho do voto do MINISTRO RICARDO
LEWANDOWSKI na ADPF 186 (cotas raciais), proferido durante sessão plenária do
Egrégio Supremo Tribunal Federal, no qual sentenciou com clarividência oracular
que: “É escusado dizer que o constituinte de 1988 – dada toda a evolução
política, doutrinária e jurisprudencial pela qual passou esse conceito – não se
restringiu apenas a proclamar solenemente, em palavras grandiloquentes, a
igualdade de todos diante da lei.
(...) Para
usar as palavras de Boaventura de Sousa Santos,“(...) temos o direito a ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza; e temos o direito a ser
diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça
as diferenças e de uma diferença que
não produza, alimente ou reproduza
as desigualdades ”.
É
bem de ver, contudo, que esse desiderato, qual seja, a transformação do direito
à isonomia em igualdade de possibilidades, sobretudo no tocante a uma
participação equitativa nos bens sociais, apenas é alcançado, segundo John
Rawls, por meio da aplicação da denominada “justiça distributiva”.
Só
ela permite superar as desigualdades que ocorrem na realidade fática, mediante
uma intervenção estatal determinada e consistente para corrigi-las,
realocando-se os bens e oportunidades existentes na sociedade em benefício da
coletividade como um todo. Nesse sentido, ensina que: “As desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao mesmo tempo (a)
consideradas como vantajosas para
todos dentro dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos ”.
O grande jurista Hans Kelsen, por exemplo, após passar toda
sua vida acadêmica discorrendo a respeito da problemática consoante a tal tema,
terminou sua atividade intelectual escrevendo um livro intitulado “O que é
Justiça?”, onde afirma que o importante não seria fornecer definição cristalina
e categórica a respeito da supracitada matéria, mas sim jamais cessar o
questionamento, a jacente reinvenção de respostas sobre o tema. Destarte, de
acordo com a lavra kelseniana, não interessaria saber “o que é justiça”, mas
sim nunca deixar de perguntar.